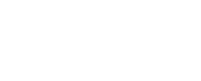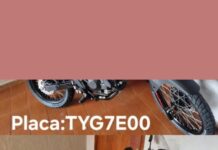Sílvio Bernardes
I
Tinha um que era conhecido por Zico da Lauzinha e era malvado que nem o cangaceiro Corisco, o Diabo Louro. Matava para ver o sujeito, do outro lado, se estrebuchando no chão e se ria porque a maldade não lhe cabia numa cara de mal o tempo todo, gastava um cadinho de riso em dentes amarelos. Talvez um riso nervoso de gente sádica, de bisca ruim mesmo, como diz o outro. Um dia esse coisa ruim chegou num baile que se fazia num galpão ali para os lados dos Garcias e, na porta, cismou com um negrinho que ria, numa prosa animada com uma mocinha que o acompanhava. Não pensou muito, nem pôs sentido naquele sujeito, encostado na amurada da casa em festa. Tirou a peixeira da cintura e meteu-lhe no bucho do outro com uma fala direta e sem arrodeio: “guarda aí pra mim, ô fiote de curuiz credo!”. O rapaz nem disse ai e mal olhou para o traste que lhe enfiava a fria lâmina no seu apendicite. A mocinha do lado é quem gritou “Deus do céu! Nossinhora do Perpétuo Socorro… acuda aqui, gente!”.
Dizem que poucas horas depois desse crime, o peste do Zico da Lauzinha ainda saiu para farrear e, depois de umas cangibrinas nos cornos, deu uma sova numa dona com quem tinha um caso já antigo. A surra foi de fazer dó e por pouco não fez com que a dita seguisse, também, para a cidade dos pés-juntos. O Zico foi preso naqueles dias, mas antes deu um espetáculo de valentia, brigando e batendo num colosso de policiais que o enfrentaram no meio da rua e num campinho ali pelos lados do Mirante. A rapa conseguiu guardá-lo e saiu com sirene no talo, numa velocidade estonteante. Algumas pessoas aplaudiram a bravura dos homi da puliça, mas muita gente ficou do lado do meliante sanguinário cuja maldade não tinha rival. Alguns anos depois a justiça liberou o condenado, mas quem saiu das grades da cadeia não era o valentão Zico da Lauzinha, famoso por sua sede de sangue, era sim um trapo de gente, um morto-vivo. Aquele homem liberto era apenas uma sombra do que fora no passado o temível criminoso que assustava a uns e atiçava a mente mórbida de outros que alimentaram por muito tempo as narrativas de uma fera impiedosa, contadas e recontadas.
II
Tinha um que gostava de fazer mágica nas ruas da cidade – por amor de ensaiar seus números – e nos eventos festivos, onde ganhava uns cobres e a simpatia da plateia, especialmente das crianças. Chamavam-no de Baratinha, mas dizem que seu nome era Salatiel e que veio lá da Bahia. Chegou por aqui vindo de trem e de carona em riba de um caminhão. Punha fogo no papel e transformava aquelas cinzas em dinheiro de verdade. Cuspia fogo pro alto e encantava o povo com suas peripécias de homem de circo. Tirava bicho do chapeuzinho – ele não usava cartola e nem fraque, como esses mágicos estrangeiros que a gente vê na televisão –, como pombos, coelhos e até camundongos. Fitas coloridas saíam de sua capanga encardida e, para desespero da molecada, fazia um menino botar ovo. E o Baratinha também cantava e toca viola. As emboladas por ele criadas e as cantigas de sua terra eram apreciadas pela gente grande e pequena nas festas da igreja. Era um grande artista e muito divertido.
III
Tinha um sujeito que andava pelas ruas da cidade cantando, com uma voz rouca e ligeiramente afinada. O povo o conhecia por Geraldo Escovão. Ele cantava e bebia, bebia e cantava. Cantava os sucessos da moda: Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Odair José, Jerry Adriane, Nélson Ned etc. Cantava e fazia performances como um grande artista que poderia ter sido e que não foi. Algumas vezes parava de cantar porque a bebida o derrubava. Invariavelmente era visto estendido nas calçadas, apagado. Muitas vezes era tirado dos lugares onde sua presença não lhe cabia e onde a inconveniência do tipo popular não era tolerada. Mas também era aceito em muitos ambientes e, nesses, além de umas doses de cachaça, alguém lhe oferecia café e comida boa. Certa vez em pleno centro da cidade, numa calçada na rua Antônio de Matos, uma senhora tentara levantar-lhe do chão frio sob uma chuva fina. Amparado nela, ainda não de todo erguido, cantou a plenos pulmões a estrofe de uma velha canção do Roberto Carlos: “Se não for por amor, me deixe aqui no chão!”. A mulher, claro, saiu correndo, assustada e o deixou por ali mesmo. Não era amor.