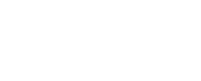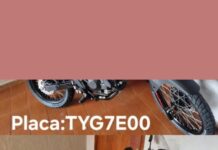@toniramosgoncalves*
Nesta semana que antecede a Páscoa, os católicos imergem em uma extensa programação religiosa. Este período é particularmente reverenciado em Minas Gerais, especialmente nas cidades do interior e históricas, que se transformam em santuários de tradições.
Refletindo sobre minha infância no início da década de 1980, recordo-me de que, a cada virada de ano, uma das minhas primeiras ações era correr para o novo calendário para verificar a data da Semana Santa. Essa época possuía um significado religioso e cultural profundo para minha mãe. Embora eu nutrisse apreço por esta data, a vivenciava com certas reservas, as quais pretendo esclarecer.
A Quaresma, que hoje parece passar num piscar de olhos, naquela época parecia durar uma eternidade. Eram quarenta dias nos quais vivia assombrado pelas histórias contadas pelos mais velhos. Diziam que era a época em que o lobisomem saía à procura de goiabas para comer. O temor aumentava para mim, pois havia uma goiabeira enorme na porta de minha casa. Imaginem, então, o quanto minhas noites eram angustiantes. Para acrescentar ao medo, dizia-se que o Diabo aproveitava essa época para tentar as pessoas de bom coração. Eu contava os dias para que esse período terminasse.
A Sexta-feira da Paixão se caracterizava por ser um dia envolto em tristeza e silêncio sepulcral. As ruas ficavam desertas, com todos recolhidos em suas casas, como se de repente todos tivessem sido transportados para outro lugar. Alguns poucos se aventuravam a sair, dirigindo-se à Cooperativa para enfrentar a fila em busca do leite e do peixe gratuitos, distribuídos tradicionalmente pelos empresários. Para nós, as crianças, era como se fosse um dia de castigo universal. Éramos instruídos a não realizar nenhuma atividade, sob o argumento de que qualquer ato poderia ser considerado desrespeitoso diante do sacrifício de Nosso Senhor na cruz. Esse período deveria ser de reflexão e introspecção. Passava o dia inteiro amuado, sem permissão para fazer qualquer coisa, exceto manter-me em quietude. Se cometesse algum erro, acreditava-se que receberia um castigo severo de Deus, mesmo que fosse apenas por brincar.
Minha mãe, profundamente religiosa, participava ativamente das celebrações do Domingo de Ramos, da Procissão do Encontro e da Procissão do Enterro. Seguindo a tradição e os costumes, ela evitava comer carne nas sextas-feiras da Quaresma e, a partir da Quarta-feira de Cinzas durante a Semana Santa, o consumo de carne também era proibido. O que mais me encantava nesse período eram as sardinhas que comíamos durante esses dias. Para mim, esse era o ponto alto, superando até mesmo o chocolate no dia da Páscoa.
À noite, por volta das dezenove horas, íamos para a procissão na praça da Matriz de Sant’Anna, que ficava repleta de pessoas, frequentemente sob a luz de uma lua cheia. Eu, ainda pequeno, me encontrava espremido no meio da multidão, esforçando-me para ver algo. Meu olhar sempre se dirigia aos soldados romanos, alinhados no palco montado em frente à igreja. Sonhava em um dia fazer parte daquele cenário, um sonho que se concretizou na vida adulta. Naquela época, ainda não se realizavam encenações. Os figurantes usavam trajes da época de Cristo e permaneciam imóveis, como estátuas, sem atuar. Enquanto o padre José Neto, com sua voz arrastada, prolongava seu sermão sobre o descimento da cruz por quase uma hora, minhas pernas começavam a doer. O alívio surgia com o cântico da Verônica, que ecoava pela praça, sinalizando que a procissão pelas ruas da cidade estava prestes a começar.
Para agravar minha angústia, minha mãe costumava comprar uma das velas vendidas pelos ambulantes. Sempre que minha irmã, que era mais nova, adormecia e precisava ser carregada, a responsabilidade de segurar a bendita vela recaía sobre mim. Apesar da proteção de papelão, a cera derretida ocasionalmente escorria e caía sobre minha mão. E isso doía, doía muito!
A multidão era tão numerosa que, sem sequer termos saído da praça, já era possível avistar as luzes tremulantes das velas ao longe, formando uma longa fila que se estendia pela rua 15 de novembro. O percurso pelas ruas da cidade era extenso, retornando ao ponto de partida. Os moradores decoravam suas casas para apreciar a passagem do cortejo fúnebre, solicitando bênçãos para seus lares. Seguia junto à fila de devotos que rezavam seus terços e cantavam de olhos fechados, enquanto minhas pernas doíam cada vez mais naquela caminhada interminável. Ao retornarmos à igreja, enfrentávamos outra longa fila para ver a imagem de Nosso Senhor Morto, uma visão que me assustava tanto quanto as de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, figuras que as pessoas tratavam como se fossem da família. Eu desejava apenas concluir meu martírio e voltar para casa, com o relógio quase marcando meia-noite.
No dia seguinte, o Sábado de Aleluia, ainda era necessário acordar cedo para presenciar a queima do Judas. Este boneco, semelhante a um espantalho, era por vezes colocado sobre uma estaca ou até mesmo enforcado, recheado de fogos de artifício. Em um determinado momento, alguém acendia o pavio e o boneco explodia sob os aplausos entusiasmados da multidão. A atmosfera não tinha nada em comum com a seriedade angustiante do dia anterior; era uma euforia contagiante. Aqueles que haviam prometido abster-se de álcool durante a Quaresma começavam a beber logo após a queima de fogos, e rapidamente as orações davam lugar à celebração.
Anos mais tarde, lembro-me de uma encenação na qual participei, quando um padre comentou que todos se empenhavam em relembrar o sepultamento de Jesus, mas a Páscoa, o dia mais importante do calendário católico, era frequentemente negligenciado pela maioria. Após a Sexta-feira da Paixão, poucas pessoas participavam das celebrações subsequentes.
Nas décadas seguintes, presenciei diversas mudanças relacionadas a esta data religiosa, sobre as quais falarei em outra ocasião. Esse é o tipo de tradição que, apesar das mudanças trazidas pelos novos tempos, persiste, refletindo a fé das pessoas e o respeito pela nossa cultura. E em Minas Gerais, o que não nos falta são histórias como essa.
* Toni Ramos Gonçalves
Professor de História, Escritor, Editor, ex-presidente e um dos fundadores da Academia Itaunense de Letras – AILE. Graduando em Jornalismo.