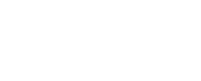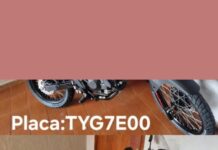Silvio Bernardes
Dona Jesuína vive no asilo há pelo menos uns 20 anos. Quando chegou àquela casa de repouso era esperta e ainda não usava essa bengalinha de metal que a acompanha em suas andanças pelos corredores, pátio, quartos, cozinha, jardins e a capelinha em que se celebram missas com certa regularidade. A bengalinha serve de apoio e, também, de arma contra aqueles com os quais ela se indispõe – com alguma regularidade –, embora não há notícias de que a senhorinha tenha tacado a bengala na cabeça de alguém. Dona Jesuína diz que não gosta do asilo, hoje mais que ontem, quando chegou. Mas, tem ali um “crush” – um sujeitinho atarracado e de pouca conversa – que ela confessa ser gamada nele e que até aceitaria “breganhá umas bicotas” com ele. Um certo Mané Tatu. Mas, parece que o homem não tem muito interesse em ser mais que amigo da Dona Jesuína e não pensa em jamais beijá-la na boca como dois enamorados. Mané Tatu é um tipo casmurro, que só faz responder às perguntas do zoto de forma lacônica. Parece que não sabe direito o que acontece por ali nem mesmo com a Dona Jesuína. O máximo que se consegue com ele é arrancar-lhe umas risadinhas tímidas enquanto cofia a barbicha de bode (ou de tatu) e ajeita a calça pega-frango. Ah, e de vez em quando ele acende para ela o pito de palha.
– Tem fogo, Mané? Ou só tem vontade? Kkkkk – É assim que a Dona Jesuína se dirige ao “crush” Mané Tatu. Nessas ocasiões ele atende com certa disposição sacando, rápido e rasteiro, o seu isqueiro, colocando fogo no pito de palha da Dona Jesuína.
Ela fuma seu cigarrinho e gosta de prosear. Tem dias que está meio jururu, enfezada, como outro dia em que nos encontramos. Estava numa peleja com um velho rádio que ganhara e que não queria, também, prosear – só fazia uma barulheira incômoda. Eu e meu companheiro, Sr. Mizael, conseguimos ligar o radinho e sintonizamos numa rádio que tocava músicas bacanas, das antigas. A Dona Jesuína ganhou vida nova. Riu. Bateu palmas. E até arriscou uma dança no meio do quarto, apoiada na sua bengalinha de metal.
– Silo do céu, que coisa boa! Pode deixar esse trem ligado que eu vou escuitá o dia inteiro. Eu já te falei que quando eu era mocinha, eu era um pé de valsa? Ah, e namoradeira! Não tinha meu pé-me-dói, não tinha tempo ruim. Todo baile que acontecia por aquelas bandas a gente ia. E dançava a noite inteira. Foi num desses arrasta-pé que eu conheci o Taliba. Ô home ciumento, sô!
Teve um tempo, ela me contou outro dia, ficou gamadinha num violeiro que fora animar um baile na Grota da Aroeira. Dançou a noite toda e não tirou os olhos do músico galante. Quando deu fé, já de manhã, o homem saíra de fininho, com a viola no saco. Ela foi atrás e, na estação, pediu para ele a levar com ela. Para onde fosse. Com viola e tudo. Ele não quis fazer um trem desse.
– Menina, tenha paciência, volte pra casa, vá com seus pais. Eu vou pra muito longe, vou pegar o trem para o Paraguai. Não levo ocê comigo, porque isso não se faz. Adeus, morena, adeus; adeus para nunca mais.
Dizem que ele até fez uma música com essa situação. E ela voltou pra casa, triste que nem um Urutau e, um dia, acabou nos braços do seu verdadeiro “crush”, a sua metade da laranja, a sua tampa da panela, um tal de Ataliba lá do Fundão de Piracema.