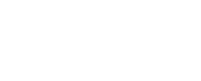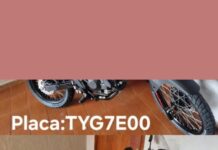Sílvio Bernardes
Encontrei num sebo em São Paulo, onde passava um interregno de minhas atribulações de início de ano, em companhia de minha filha (que já é quase paulista), um livro do Fernando Sabino (“No fim dá certo – Se não é porque não chegou ao fim”). Quase nenhum autor me chama tanto a atenção numa estante de livraria quanto o escritor mineiro/carioca. Talvez é porque foi ele um dos primeiros de quem me aproximei quando me tornei um ledor voraz de obras de todos os gêneros – para além dos livros didáticos do grupo escolar –, ainda nos meus tempos de menino imberbe. O Fernando Sabino me acompanha desde então e alguns de seus livros me atrevo a reler com certa frequência. Creio que se não fosse pelo autor, o título me interessaria porque eu quero que o trem dê certo no final e se não dá, acredito que é porque ainda não chegou ao fim. Sou um otimista incorrigível, acredito que se as coisas não estão, haverá de entrar nos eixos.
Mas, estava em São Paulo. Comprei o livro, de crônicas, de 1998, que eu não conhecia, e li ali mesmo, no apartamento em Santa Cecília, bairro antigo de Sampa. E, assim, digo, com muita certeza, ler Fernando Sabino é um mergulhar em boas águas de inspiração, para além das delícias de suas narrativas.
Nas ruas, ainda em São Paulo, vou tentando conhecer cada pedaço daquele lugar, buscando entender o indo-e-vindo apressado dos transeuntes que brotam aos montes, em todos os ambientes, o dia inteiro. No metrô, então, nuuuuu, é gente demais da conta. E foi numa dessas, numa manhã sem chuva – coisa rara nesses últimos tempos por lá – que vi entrando no metrô um cego. Aliás, a sua fala antecipou a sua presença propriamente dita, para mim, já que o trem estava lotado. Eu estava sentado, curtindo minha viagem, com direito a escalas nas estações daquele itinerário. O cego era um homem jovem ainda, talvez nem chegara aos 40. Tinha uma bela voz e falava com a desenvoltura de um pastor evangélico – ou de um cego preparado. Grande parte do tempo contou sua situação desde que perdera os olhos, aos 28 anos, em decorrência de um glaucoma. E que estava ali para falar aos passageiros, que a vida é dura e mais dura ainda para quem perdeu a luz, mas que ainda assim não se dera por vencido. Mesmo sem enxergar, trabalhava o dia todo vendendo balas, doces e pequenos objetos pelas ruas de São Paulo, especialmente nos metrôs. E que, mesmo com todas as dificuldades, ainda passava pelo dissabor invariável de ser abordado – algumas vezes de forma truculenta – por fiscais da prefeitura, que lhe tomavam as mercadorias, deixando-o de olhos e mãos vazias. “Senhoras e senhores, perdoem-me a ousadia, a importunação, o incômodo em sua viagem. De verdade, perdoem-me. Não sou de pedir. Sou cego, aliás fiquei cego e vocês não sabem o quanto isso é triste e difícil”, dizia. “Ofereço minhas coisinhas aqui e acolá para que eu possa continuar me alimentando e ajudando minha família. Você me dá o que quiser por uma bala, um bombom. Hoje estou pedindo porque me tomaram tudo que eu tinha para oferecer. Hoje estou sem a visão e sem meu ganha-pão. Estou pedindo. Se puderem e quiserem me ajudar, quando eu passar a seu lado, é só tocar em minha mão”, explicava. Nos vagões do metrô o homem cego circulava com desenvoltura, levemente amparado por sua bengala. Eu não tenho esse desembaraço, esse equilíbrio, nem no metrô e, muito menos, nos ônibus da ViaSul.
Ali, naquela condução urbana muita gente encheu a mão do pobre cego com moedas e notas de R$ 2,00. Eu mesmo o fiz enquanto pensava na sua desdita… melhor, na sua coragem, no seu destemor, na sua obstinação, nas tentativas diárias de se ressignificar. As autoridades tomam-lhe as mercadorias, mas ele insiste. E, quando não tem o que oferecer para adoçar o dia das pessoas, conta história, uma história triste, é verdade, cuja narrativa é sua própria vida, antes e depois da cegueira, em que o personagem principal é ele mesmo, que, apesar, das bordoadas, não morre no final.