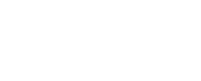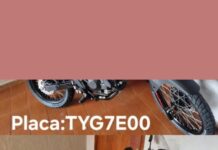Sílvio Bernardes
Eu tinha seis anos de idade quando aconteceu o golpe militar de 31 de março de 1964. Aliás, foi naquele 1º de abril que nós tomamos conhecimento deste estranho acontecimento na vida nacional. Era ali por volta de umas 18 horas – me lembro bem porque no rádio estava passando a “Hora do Ângelus” – eu e minha irmã Marina, mais velha que eu sete anos, estávamos brincando na calçada junto de um colosso de crianças nossos vizinhos. Eu era quase um bebê. Ativo, esperto, mas era um bebê, que chupava chupeta e o dedo. E fazia xixi na cama. A mãe chegou no portão e berrou: “vem pra dentro, cambada!!! A revolução tá na rua!!”. Pra mim, um quase bebê, era como se ela tivesse berrado: “Óia a onça!! O boi bravo tá vindo, gente!! O cachorro com raiva vai te pegar, sebo nas canelas!!”. Escapuli das costas de um menino que fazia as vezes de cavalo e tarraquei na mão da minha irmã Marina. “Vamos, Didi, vamos!!”. Estava lívido como cera. Acho que a minha mãe deu um empurrão n’eu e na Didi pra dentro de casa cheia de mãos e braços e foi, ela, pra junto da cerca, conversar com a nossa vizinha, Dona Jove do Seu Sebastião, sobre a tal revolução. Lá de perto da janela, num cantinho de que eu gostava de ficar nos momentos de tédio e solidão, embaixo de uma cabaninha feita com um velho lençol, ouvi minha mãe e a Dona Jove conversando que aquele trem ia ser o deus-nos-livre, a volta da carestia, da falta dos trem nos armazém, tempo de fazer cruz na boca… “Vamos ter que estocar tudo quanto há, meu Deus! A gente não sabe o dia de amanhã, muié do céu!!!”. Eu era muito menino, não sabia quem falava o quê. Estava embaixo do meu cafofo, como um bichinho acuado. Mas, ouvia a conversa das duas mulheres: “Deu no rádio, o governo vai prender. Vai fazer e acontecer e quem não gostar desse jeito, tchau e bença. Vai pro raio que o parta!”. Meu pai chegou do trabalho um pouco depois dessa conversação na cerca que separa os quintais da minha meninice. Ele era chefe da repartição lá no centro da cidade. Vinha todo santo dia de bonde da linha 2700. Sempre chegava falante, cigarro entre os dedos, jornal debaixo do braço, um cheiro de álcool e de funcionário público que não se faz de rogado quando o assunto é mostrar serviço. Usava terno e gravata. Minha mãe dizia, quando o pai demorava, que ele devia estar atrás de um rabo-de-saia ou perdido pelaí, com “alguns vagabundos da sua laia”, nos botequins da vida, entre bolas de sinuca, cerveja e conversa fiada. Nesse dia ele veio cedo da repartição. Sentou-se no velho sofá na sala de estar. Cenho carregado, olhos perdidos no nada à frente de um palmo, fumando mais do que o normal. Depois de um longo silêncio (ou de uma pausa dramática, se preferirem), falou contrafeito: “Zabel – era assim que ele chamava minha mãe -, cê viu que o golpe tá na rua e nós estamos todos no c* do zé-fel? No pau da goiabeira? O Jango caiu e sumiu. Ninguém dá notícia do homi. Agora, minha filha, os milicos é que vão dar as cartas”. Meu pai era janguista, minha mãe era o que o meu pai queria e eu, pequeno, era uma criança que vivia prestando atenção nas conversas dos adultos. Gostava de política e de uma conversa fiada. Talvez eu fosse, também, favorável às reformas de base, à distribuição de terras com quem queria plantar, ao populismo do PTB. Eu não devesse, já naqueles tenebrosos anos de 1960, querer uma ditadura, eu era uma criança de seis aninhos, queria mamadeira, chupeta, passear de cavalinho nas costas da minha irmã Didi e das amiguinhas dela, da Wanderleia, da Marília, da Lelê e até daqueles cavalões que ficavam beirando minha irmã com olhos de quem tava gamado, doidinhos pra dar umas bitocas nela.
Quando eu cresci um pouco mais, em idade e tamanho, pude ver o espeto que foi a tal “revolução de 1964”, que se transformou numa ditadura militar de grandes intercorrências na vida das pessoas. Teve carestia sim, teve mais desigualdade social e miséria sim – que já existiam anteriormente -, teve sim corrupção de políticos e de apaniguados, mas o pior de tudo foi a perseguição que se impôs à criatividade das pessoas, o silenciamento das manifestações livres, a morte, a tortura, o fim das esperanças. Como escreveu o poeta: “foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos; a era da fé e da incredulidade; a primavera da esperança e o inverno do desespero; tínhamos tudo e nada tínhamos”. A nossa gente andava triste, falando de lado e olhando pro chão. A desgraça da ditadura durou mais do que devia, mais do que podia, mais, até, do que alguns queriam; extrapolou todos os limites. Eu cresci com ela. No começo tive pesadelos. Chorava e ficava assustado por qualquer coisa. Depois, fui tomando consciência das coisas que aconteciam e os pesadelos ficaram mais presentes. Eu sabia de tudo o que acontecia, nas universidades, nas fábricas, nos teatros, nas ruas, nas praças onde antes os rapazes e moças namoravam e as crianças brincavam. Era muita cara feia, muitos cassetetes, muito gás lacrimogêneo, muitas prisões, muitos porões e gritos e medos e traumas para sempre. Muito cale-se! Amigos presos, amigos sumidos assim, pra nunca mais. Mas, mesmo assim, a gente seguia, caminhando e cantando e seguindo a canção, já que somos todos iguais, braços dados ou não. Nas, escolas, nas ruas, nos campos, nas construções, a gente seguia, acreditando que amanhã há de ser outro dia, apesar de você, calhorda! Puxa, já faz sessenta anos que essa coisa aconteceu. E há quase quarenta ela se findou, depois de uma abertura lenta e gradual. E pensar que há poucos meses um dos filhotes desta ditadura – cobra criada, de muita peçonha – quis revivê-la num golpe contra a democracia. Por pouco o tresloucado capitão não conseguiu seu intento, embora espalhasse seus venenos, com sua metralhadora cheia de mágoa, por todas as quinze bandas em espetáculos de horrores que ameaçam, ainda, o estado de direito e as conquistas sociais pós-ditadura.